O assunto é a biografia de José Rodrigues Miguéis (1901-1980), escritor nascido em Lisboa, com passagem por Setúbal em 1925 (onde foi delegado do Procurador da República), que, a partir de 1929, viveu no estrangeiro (em Bruxelas, por quatro anos, e em Nova Iorque, desde 1935 até ao falecimento) e que, em Portugal, teve intensa acção na imprensa (Seara Nova, Diário de Lisboa, Diário Popular, O Globo, entre outros). No entanto, é uma biografia com marcas inovadoras e surpreendentes esta, que cruza o biografado com uma sua amiga, a cientista Maria de Sousa (1939-2020), e com a própria autora, várias vezes mencionada no seu estatuto de estudante e de investigadora da obra do escritor. O próprio título da obra chama a atenção do leitor para uma forma de biografar distante do convencional — Nos Passos de José Rodrigues Miguéis - Uma Biografia como um Romance, obra devida a Teresa Martins Marques (Âncora Editora, 2025), cuja primeira obra publicada sobre o mesmo autor data de 1994, O Imaginário de Lisboa na Ficção Narrativa de José Rodrigues Miguéis (Editorial Estampa).
Ler uma vida como se o leitor esteja perante um romance, pois. Miguéis e Maria de Sousa foram amigos e tiveram muitas horas de conversa. Este foi o primeiro pretexto para Teresa Martins Marques fazer destes dois nomes as personagens necessárias para a acção desta obra, num diálogo imaginário, em que ele se conta e ela o ouve e inunda com perguntas e observações. Se a longa entrevista é fruto da imaginação da autora (visando interligar os tempos e as acções, problematizar e informar sobre os contextos, aprofundar o pensamento do biografado, enfatizar o percurso utilizando a narração na primeira pessoa), o seu conteúdo é consequência de aturada leitura e investigação, que passou por: conversas com pessoas que foram próximas de Miguéis (Maria de Sousa e Camila Miguéis, sobretudo) e com estudiosos da sua obra (David Mourão-Ferreira e Onésimo Teotónio de Almeida, por exemplo); conhecimento exaustivo da obra publicada em livro e em periódicos e de materiais não publicados; leitura intensa de documentação alusiva a Miguéis, particularmente na vertente epistolográfica, em que se destacam destinatários como José Saramago (1922-2010), David Ferreira (1897-1989), Jacinto Baptista (1926-1993) ou Taborda de Vasconcelos (1924-2009), entre outros.
Se a palavra “romance” no subtítulo da obra serve para garantir a fluência narrativa, a verdade é que a sua estrutura, fortemente apoiada no género entrevista, vive de tipologias muito diversas de escrita — do monólogo da personagem, ora em tom diarístico ora em exercício de reflexão e de anotação sobre as histórias que fizeram a sua vida; do ensaio, que surge como leitura feita pelo próprio biografado à medida que os trabalhos sobre a sua obra vão chegando ao seu conhecimento; da epistolografia, que suporta muitas das ideias do correspondente e contextualiza as vivências, permitindo uma proximidade maior ao leitor; do resumo de algumas obras, recurso importante pela dimensão autobiográfica que muitas delas apresentam, contendo mesmo chaves de descodificação dessa marca de vivência pessoal.
Nos Passos de José Rodrigues Miguéis é a biografia necessária para o leitor se aproximar de um autor que, sempre preocupado com o que se passava em Portugal, teve de fazer a sua vida distante do país (numa situação entre a emigração e o exílio), não só em termos geográficos, mas também de mentalidade, pois não teve afinidades com o regime político que “Salatzar” ou “Salaczar” marcou, teve a sua acção controlada pela polícia política, recusou o Prémio Nacional de Novelística (apesar de o dinheiro lhe fazer falta) e afirmava o seu tom contestatário “contra gregos e Caetanos”.
Miguéis, que publicou durante 60 anos (no levantamento da bibliografia activa que Teresa Martins Marques apresenta, o primeiro texto publicado sai em Abril de 1921 no jornal O Sol, de Beja, e o último em Agosto de 1980, no Diário Popular, apesar de não ter sido este o seu derradeiro texto), surge vivo na sua argúcia crítica (sobre os outros e sobre si mesmo, com diálogos construídos sobre citações suas), na sua vida complexa e recheada de muitos dissabores e sofrimentos, na sua qualidade de escritor a ser lido e pensado pelo seu olhar sobre Portugal sem tibiezas. Teresa Martins Marques, cuja obra se estende pelo ensaísmo e pelo romance, conseguiu aliar estas duas tónicas em prol de uma biografia necessária, que passará a ser de consulta indispensável para um mais profícuo entendimento da obra de José Rodrigues Miguéis.
* João Reis Ribeiro. "500 Palavras". O Setubalense: n.º 1582, 2025-07-30, pg. 10.
.jpeg)
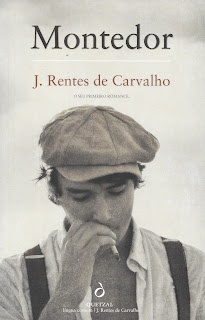

.jpg)
.jpeg)



.jpg)
.jpeg)






