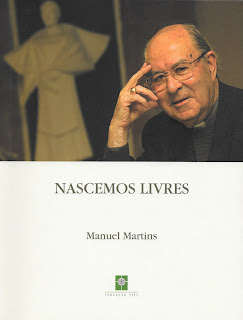Um dos textos intensos, em termos de percurso histórico-cultural e de defesa dos poetas, presente em Viva la Poesia!, do Papa Francisco, é a carta apostólica de Março de 2021, surgida a propósito do sétimo centenário da morte de Dante Alighieri, exercício que passa pelas leituras pontifícias que o poeta italiano possibilitou no século XX (através de Bento XV, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI) e pela adesão de Francisco ao autor de Divina Comédia, obra que se afirma como “um grande itinerário, assim como uma verdadeira peregrinação, seja pessoal e interior, seja comunitária, eclesial, social e histórica”. Entendendo Dante como “paradigma da condição humana”, Francisco atribui-lhe a missão de ser “poeta da esperança” pelo caminho que fez entre uma visão do inferno, “a condição humana mais degradante”, e a visão de Deus, como possibilidade de “uma nova humanidade que aspira à paz e à felicidade”, irmanando-o com Francisco de Assis.
A construção deste caminho, com invocações históricas, recheado de símbolos e de imagens intensas, apresenta Dante como referência de um tema que é caro a Francisco: “paladino da dignidade de todo o ser humano e da liberdade como condição fundamental tanto das opções de vida como da própria fé”. Quase no final do texto, Francisco considera que, em Dante, “podemos quase vislumbrar um precursor da nossa cultura multimedia, na qual palavras e imagens, símbolos e sons, poesia e dança se fundem numa única mensagem”, razão adicional para que a obra do poeta florentino seja apresentada aos jovens como mensagem forte e importante.
Esta preocupação de apresentar a literatura, particularmente a poesia, como determinante para a formação dos agentes pastorais constitui tema da carta em que Francisco abordou esse papel, datada de Julho de 2024, logo de início defendendo “o valor da leitura de romances e de poesia no caminho do crescimento pessoal”. Seguindo uma perspectiva didáctica da leitura, porque “uma obra literária é um texto vivo e sempre fecundo”, Francisco elogia a capacidade criativa que a leitura traz, em vantagem sobre outros meios — “Diferentemente dos meios audiovisuais, onde o produto é mais completo e a margem e o tempo para enriquecer uma narrativa ou interpretá-la costumam ser menores, na leitura de um livro o leitor é muito mais ativo. De alguma forma, ele reescreve a obra, amplifica-a com sua imaginação, cria um mundo, usa as suas capacidades, a sua memória, os seus sonhos, a sua própria história cheia de drama e simbolismo.” Para reforçar a importância da literatura na formação, Francisco valoriza a forma como o quotidiano a influencia e recorre ao jesuíta Karl Rahner (1904-1984) quando disse que ela parte dos “acontecimentos reais como a ação, o trabalho, o amor, a morte e todas as coisas pobres que preenchem a vida.” E conclui o Papa: “O olhar da literatura treina o leitor na descentralização, no sentido dos limites, na renúncia ao domínio cognitivo e crítico sobre a experiência, ensinando-lhe uma pobreza que é fonte de riqueza extraordinária. Ao reconhecer a inutilidade e talvez até a impossibilidade de reduzir o mistério do mundo e do ser humano a uma polaridade antinómica de verdadeiro/falso ou certo/errado, o leitor acolhe o dever de julgamento não como instrumento de dominação, mas como impulso à escuta incessante.”
O elogio (e desafio) aos poetas consta numa carta que lhes é dirigida, publicada em 2024, numa antologia de poesia religiosa. Apresentando-os como aqueles que são “olhos que olham, mas também sonham”, elege-os como excelentes mensageiros, pois “o artista é o homem que vê mais profundamente, profetiza, anuncia uma maneira diferente de ver e de compreender as coisas que estão diante dos nossos olhos”, apresentando “tanto as belas quanto as trágicas realidades da vida”. Chamando-os à sua função para a Humanidade, Francisco enaltece o trabalho dos poetas — “dar vida, dar corpo, dar palavras a tudo o que o ser humano vive, sente, sonha, sofre, criando harmonia e beleza” —, ao mesmo tempo que lhes atribui a responsabilidade de poderem “ajudar a entender melhor Deus como o grande ‘poeta’ da humanidade.” Em jeito de exortação, este texto conclui com o incentivo aos poetas: “Segui em frente, sem cansar, com criatividade e coragem!”
Este texto acaba por justificar todas as mensagens sobre poesia que Francisco nos lega neste Viva la Poesia!, dirigindo-se aos leitores, aos formadores, aos que escrevem, aos responsáveis pelo mundo, assumindo a poesia como uma manifestação de aprendizagem do humano, absolutamente necessária, porque “uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar não tem poesia, e a vida sem poesia não funciona.”
* João Reis Ribeiro. "500 Palavras". O Setubalense: n.º 1524, 2025-05-14, pg. 14.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.png)