Pelas crónicas estremocenses de Sebastião da Gama, vindas a público no Jornal do Barreiro, passa a paisagem, a festa de Carnaval, a cidade, o mercado, a simpatia das gentes, episódios do quotidiano do poeta, um jogo de futebol, os amigos... tudo num xadrez de observação e de contemplação enlaçadas em afecto, patente em exemplos como: a) ao referir a paisagem, diz ainda não a conhecer “senão da janela do quarto ou da Torre de Menagem — o campanário de Estremoz e o seu mirante, de onde os olhos se admiram para os olivais sem fim, para o verde que te quero verde dos trigos, para as searas onduladas”, umas pinceladas que nos remetem para outra vastidão, também ela “ondulada”, também ela podendo ser “verde”, como o mar que marca forte presença na poesia de Sebastião da Gama, assim como nos remetem para García Lorca, intertextualizando com o seu “Romance sonâmbulo”, quando diz “Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas.” (e sabemos bem quanto Sebastião da Gama conhecia e apreciava a poesia espanhola, como David Mourão-Ferreira testemunhou numa entrevista); b) ao olhar o Rossio estremocense, não duvida de que a cidade pode ser “uma caixinha de surpresas” e proclama, quase em jeito de provocação, que “o Rossio de Estremoz poderia tratar por tu o de Lisboa”; c) para referir a hospitalidade alentejana, inicia uma crónica em torno de uma reflexão tão cheia de simplicidade quanto “só estou bem onde estou”, reforçando não se ver como forasteiro, mas sentir-se “em casa”; d) finalmente, na última “carta”, atesta a sua identificação: “Sou de Estremoz e dos seus arredores — e aqui é verde e alegre. Este é um Alentejo de flores e pássaros, de colinas e fontes, de cantigas gárrulas no ar.” Lemos estas afirmações e mais sentido ganha a ideia de que um poeta como Sebastião da Gama não pode viver preso a uma geografia, ainda que dela se sirva para, como refere Ruy Ventura no ensaio que integra na antologia Por Mim Fora (2024), funcionar como “arquétipo simbólico, símbolo visto, criatura / pintura que torna presente, por meios misteriosos e ainda assim imperfeitos, o supremo Criador ou Pintor”.
A presença de Sebastião da Gama em Estremoz passou muito pelas amizades aqui descobertas, várias registadas em poemas — além de António Bento, já referido, mencionem-se também Maria Guiomar Ávila (1919-1992), Joaquim Vermelho (1927-2002) e Acilda Fragoso (n. 1934). À primeira foram dedicados dois poemas, “Poesia depois da chuva”, de 12 de Fevereiro de 1951, e “Crepuscular”, escrito pelo S. João de 1951, este em torno da figura da Rainha Santa; o nome de Joaquim Vermelho figura na dedicatória de um dos mais icónicos poemas de Sebastião da Gama, “Viesses tu, Poesia”, de 10 de Fevereiro de 1951; finalmente, Acilda Fragoso, que teve o poeta como professor, viu os seus 17 anos coroados com o poema “A uma rapariga”, em 7 de Março de 1951.
Conhecer Maria Guiomar Ávila (que, em 1953, foi uma das responsáveis pela homenagem estremocense ao poeta) significou para Sebastião da Gama uma oportunidade para conviver com quem apreciava poesia. Em várias ocasiões falou dela à ainda noiva Joana Luísa, na correspondência trocada, um registo que funcionou muitas vezes como substituto de um diário para contar à amada as suas vivências no Alentejo — em Fevereiro de 1951: “Hoje, pelo telefone, já conheci a Guiomar Ávila. Encantadora. Encontrar-nos-emos na missa das 9 e trinta, no domingo (ela é muito religiosa, portanto não cobiça o homem do próximo; e não vai à das onze porque, diz ela, é uma parada de elegâncias)”. Guiomar Ávila e Joaquim Vermelho fizeram parte do grupo a quem Sebastião da Gama leu em primeiro lugar o seu Campo Aberto, acabado de sair, uma espécie de tertúlia que se reuniu na tarde de 11 de Fevereiro de 1951. Pertence a Joaquim Vermelho um sentido testemunho sobre o amigo poeta, intitulado “O rapaz da boina”, saído no Jornal de Almada quando passava o nono aniversário da falecimento de Sebastião da Gama, afinal um retrato da sua vivacidade e sentido de humor, da referência que constituiu para quem o conheceu — “O rapaz da boina veio da Serra-Mãe, descendo ao povoado sonolento e fechado como uma fortaleza antiga receosa de inimigo invisível. Olhos brilhando do sol das alturas. A boina tombada garridamente sobre a testa, sombreando os olhos como nuvem brincalhona a querer esconder-nos o brilho intenso e estranho da alegria que deles irradia, não vá ela ferir-nos profundamente no nosso doentio viver de janelas fechadas, de costas viradas para a luz. Como é que a alegria pode vir ter connosco se lhe fecharmos todas as janelas e portas, batendo-as intempestivamente na cara do convívio? O rapaz da boina desceu ao povoado e cantou as janelas fechadas em gargalhadas de rosa encarnada, num riso de criança feliz e despreocupada.”
* João Reis Ribeiro. "500 Palavras". O Setubalense: n.º 1458, 2025-01-29, pg. 10.










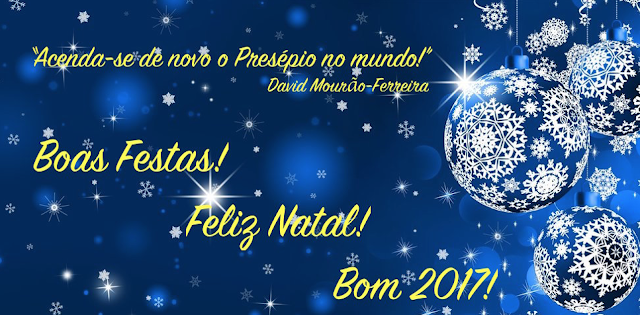
.jpg)


.jpg)





