“Para além da materialidade das embarcações, das velas, dos apetrechos de pesca, dos motores, das sondas e radiotelefones, o património cultural marítimo é constituído pelo modo como se utilizavam esses equipamentos: como se velejava, como se remava, como se pescava, e ainda pelos saberes, crenças, rituais, tragédias, humor, etc.” Esta afirmação, justifica-a João Augusto Aldeia com a necessidade da criação de um Museu Imaterial do Mar de Sesimbra, projecto para o qual o seu livro Primeiras motorizações de embarcações de pesca de Sesimbra (1926-1932) (ed. Autor), há dias apresentado, é um digno contributo, resultante de passeio aturado pelos arquivos sobre as embarcações e de testemunhos recolhidos na memória daqueles que, directa ou indirectamente, participaram na faina sesimbrense.
Sesimbra é uma das terras que integram um roteiro camoniano feito a partir d’ Os Lusíadas, obra que a menciona no momento em que, no canto III, Vasco da Gama conta a história de Portugal ao rei melindano, evocando as conquistas de Afonso Henriques e referindo-se à “piscosa Sesimbra”. Essa adjectivação, resultante da abundância de peixe, foi o marco de um percurso que, no século XX, encontrou o revés, levando o pescador local a reinventar a profissão até aos limites do possível, ao mesmo tempo que se gera a ideia de em Sesimbra existir um dos maiores portos de Portugal - criticamente, anota João Aldeia: “pode ser que o seja estatisticamente, mas não é com o peixe das suas águas nem com a qualidade que outrora lhe deu prestígio.”
Mesmo por estas contingências que o passar dos tempos trouxe, vale a pena organizar a memória, falando dos marítimos, dos carpinteiros navais e dos mecânicos que deram identidade ao local através da arte da pesca. Nessa tarefa, valoriza este livro apontamentos sobre essa arte, pugnando pela divulgação da sua história e avançando com possibilidades interpretativas para a construção dessa mesma identidade - curiosa é a aproximação semântica que o autor faz entre a expressão “vela de espicha” e a designação Espichel, que dá nome ao cabo, mostrando mesmo a sobreposição da vela com a carta orográfica local.
Assunto como a motorização das embarcações sesimbrenses, iniciada em 1926, leva-nos a um olhar sobre as adaptações feitas - passar dos remos para o motor, publicitar os equipamentos, alterar aspectos das embarcações (no cavername, por exemplo), novas técnicas a dominar, diferentes graus de especialização nas companhas, formas de resolver problemas resultantes da transformação (como o da interferência dos motores sobre a agulha das bússolas, por exemplo), novos desafios de segurança (não escapa à memória o incêndio a bordo da barca “Gemeniana”, em 1928, que usava um motor de automóvel adaptado, e consequente naufrágio da mesma), formas de abastecimento de combustível, entre muitas outras.
João Aldeia põe o leitor em contacto com mais de duas dezenas de protagonistas da história do tempo abrangido, actores neste processo de motorização, nascidos entre 1869 e 1905, extremos ocupados por dois membros da mesma família, pai e filho: Zózimo das Chagas e Zeferino das Chagas, respectivamente. Quanto às embarcações, na ordem da meia centena, são apresentadas no seu breve historial, com nomes ricos do ponto de vista simbólico - com predominância dos nomes femininos -, havendo uma delas, “Luz do Calvário”, que teve a sua companha imortalizada na literatura pela pena de Raul Brandão, em viagem de Fevereiro de 1923, relatada na obra Os Pescadores (publicada nesse mesmo ano e com nova edição no ano seguinte).
O livro de João Aldeia, que se percebe ser resultado de um empenho pessoal e emotivo (dedicado ao pai, que foi serralheiro mecânico e trabalhou para a frota pesqueira local), conta uma história que é longa e cheia de coisas a descobrir, numa linguagem acessível, que permite o (re)encontro com rostos que fizeram Sesimbra e chama a atenção para um sector importante nas dinâmicas locais que tem sido objecto de pouco estudo, não só em Sesimbra mas também na região. A motorização dos barcos é o pretexto deste estudo, mas é também uma chamada de atenção para a memória.
* João Reis Ribeiro. "500 Palavras". O Setubalense: n.º 1268, 2024-03-27, pg. 2.
.jpeg)
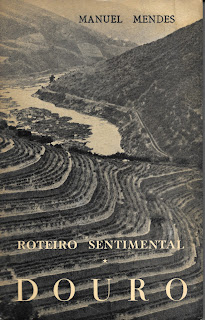
.jpeg)








