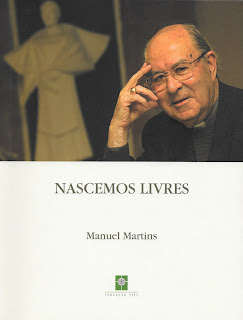A revista O Arqueólogo Português começou a sua publicação em 1895 sob a direcção de José Leite de Vasconcelos (1858-1941), tendo-se dividido até hoje em cinco séries, a primeira das quais, em 30 volumes, a mais longa, publicada até 1938. A revista, uma referência indiscutível na área da arqueologia, surgiu no âmbito do Museu Nacional de Arqueologia, criado dois anos antes por Leite de Vasconcelos.
A temática sadina passou pelas páginas da revista desde o seu primeiro número, que teve também um colaborador setubalense, Manuel Maria Portela (1833-1906). No segundo número, de 1896, os temas das terras do Sado continuaram a ser abordados e outro setubalense ali assinou um texto, o arqueólogo António Inácio Marques da Costa (1857-1933). Foi ainda neste segundo número que Leite de Vasconcelos publicou a notícia “Questionários Arqueológicos”, dando publicidade a trabalho encetado a nível nacional dois anos antes: “A Comissão dos Monumentos Nacionais fez imprimir, em 1894, e distribuir por diversas pessoas, os seguintes questionários, com o fim de recolher elementos para o estudo da arqueologia portuguesa.” Seguia-se o referido questionário, dividido em assuntos gerais e em informações de carácter militar.
No número seguinte de O Arqueólogo Português, o terceiro, de 1897, surgia a primeira resposta a este questionário, devida a Joaquim Rasteiro (1834-1898), ocupando as primeiras 48 páginas da publicação sob o título “Notícias Arqueológicas da Península da Arrábida”, com a nota de rodapé que esclarecia ter sido o artigo escrito no período de 1893-1894. Ao longo do texto, outras notas vão aparecendo, devidas a José Leite de Vasconcelos, umas vezes contextualizando algumas informações, outras vezes estabelecendo relações com outros estudos.
Joaquim Rasteiro, azeitonense, autodidacta, investigador, político e proprietário, foi autor de diversas publicações sobre história local da sua região, de entre as quais se destaca Palácio e Quinta da Bacalhoa - Inícios da Renascença, editada em 1895 (que mereceu edição fac-similada em 2003). As “Notícias Arqueológicas da Península da Arrábida”, que redigiu, seguem o plano do inquérito da Comissão dos Monumentos Nacionais e abrangem os termos de Azeitão, Palmela e Sesimbra.
Recentemente, Bernardo Costa Ramos, azeitonense e divulgador da história da sua terra, promoveu a edição deste texto de Joaquim Rasteiro (Azeitão: A Páginas Tantas, 2018), mantendo a ortografia da época e assim justificando o trabalho apresentado: “por um lado, proporcionar a todos aqueles que se interessam pela nossa história de disporem em formato livro do texto original, tornando-o mais legível e de uma partilha mais célere; por outro lado, prestar homenagem aos grandes homens azeitonenses que contribuíram para fixar essa mesma história”. O livro contém ainda uma nota biográfica de Joaquim Rasteiro elaborada pelo filho, que mantinha o nome do pai, publicada no semanário dominical O Azeitonense, em 7 de Setembro de 1919. A iniciativa da edição de 2018 foi indiscutivelmente louvável, embora devesse ter tido maior divulgação e mais substancial tiragem.
A intenção de Joaquim Rasteiro não se limitou a constituir uma resposta ao inquérito da Comissão; a esse apelo, acrescentou o seu propósito de “segurar o que tende a cair no olvido, juntar o que há disperso, fazer que se saiba o muito que se cala”, vontade tanto mais acentuada quanto as duas instituições que mais perpetuavam a história e as artes - as “famílias religiosas” e a “instituição dos morgados” - estavam extintas e, assim, urgia “segurar por novos meios quanto tende[sse] a esvair-se”.
As descrições que Rasteiro apresenta no seu texto decorrem da sua observação, do seu contacto com os sítios ou com as peças que descreve, não especulando, mas chamando a atenção para as condições de sobrevivência dos testemunhos artísticos - por exemplo, quando se refere ao Palácio da Bacalhoa, considera ser “um monumento a que bem caberia a guarda do Estado” em virtude da “forma e disposição das suas construções, pelos seus azulejos e medalhões esmaltados, pela significação artística do conjunto”. O conjunto da sua descrição é valorizado pelas informações de cunho histórico (que na época eram conhecidas) associadas a cada um dos itens, estabelecendo a diferença entre o que é comprovável em termos de conhecimento e o que diz respeito a tradições ou crenças construídas - por exemplo, ao mencionar o paço dos Duques de Aveiro, diz que “modernamente inventou-se que dos reclusos [jesuítas ali custodiados]31 por 73 se finaram de tanto penar nas cadeias de Azeitão”, afirmação que imediatamente contesta: “É falso. Nem um só aqui morreu. Os livros do registo paroquial não acusam um óbito sequer de jesuíta.”
Pelo escrito de Rasteiro passam as antas (existência suposta na zona de Sesimbra), as cavernas ou grutas (lapas do Médico, de Santa Margarida e da Greta), as grutas artificiais pré-históricas (Quinta do Anjo), as pedras de raio, os restos de povoação (vestígios romanos na antiga freguesia da Ajuda), as moedas e outros objectos romanos, os objectos e moedas árabes, as tradições locais (ermida de Santa Maria da Vitória), as designações locativas (Azeitão, Coina-a-Velha, Vila Nogueira de Azeitão, Vila Fresca de Aseitão, Portela, Casal do Bispo), as fortificações ou edifícios atribuídos aos mouros na voz do povo (castelo dos Mouros, covas da Moura, castelo de Coina), os monumentos-palácios (Bacalhoa, Duques de Aveiro, Calhariz), as igrejas (de S. Lourenço e de S. Simão), as ermidas (do Bom Jesus, dos Remédios), os túmulos (na igreja de S. Tiago, em Palmela, e no mosteiro da Piedade, em Azeitão), os cruzeiros (das Necessidades), os brasões (Bacalhoa, capela das Necessidades, quinta do César, quinta Nova e quinta Velha, quinta das Torres, entre outras), as imagens de pedra, as imagens de barro, as pinturas em tela, as custódias, outros objectos de culto (alfaias diversas de arte sacra), as tapeçarias (em longo inventário), as inscrições (em enumeração pormenorizada), as antiguidades a que não pode marcar-se origem conhecida (lápides do chafariz de Aldeia Rica e da quinta do Visconde de Montalvo), os montes fortificados, os castelos de Sesimbra e de Palmela, as torres, os factos históricos das fortalezas (de Coina, Sesimbra e Palmela) e as fortalezas prisões de Estado (Palmela, Outão, paço dos Duques de Aveiro).
A leitura deste registo devido a Joaquim Rasteiro torna-se interessante porque o texto abdica de considerações laterais e vale na sua simplicidade, assertividade e objectividade; permite ao leitor uma viagem a um tempo e a um espaço de reconstrução da identidade; afirma uma riqueza patrimonial e histórica da região da península arrábida; é um elemento-base incontornável a ser considerado na bibliografia local.